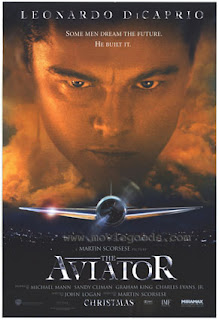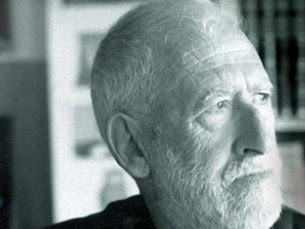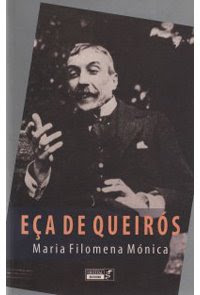Das profundezas do abismo (um AVC, sofrido em 1995), José Cardoso Pires chamou por ele. Sim, disse bem, por ele (ele-próprio), e não por Ele, que isso seriam contas de outro rosário, para as quais Cardoso Pires nunca esteve virado, em vida e em obra. Tal chamamento ou grito ganhou corpo em De Profundis, Valsa Lenta (1997, Dom Quixote), que, segundo o próprio, também poderia ser uma Memória duma Desmemória. O livro, abrindo com um interessantíssimo prefácio de João Lobo Antunes, surge quase todo ele em forma de ensaio, apenas aqui e ali aflorando a ficção, sobretudo nos "diálogos" de Ramires e Martinho (os companheiros de quarto hospitalar). Mas De Profundis, dissertando sobre a doença vascular cerebral, toca-nos no nervo: é que sem memória não se vive; ou por outra, e como aponta Lobo Antunes, vive-se, quando muito, clinicamente, mas não humanamente.
A memória é a ponte que liga passado-presente-futuro. Sobre ela, atravessando-a num vai-vem constante, segue a vida. Repousa a existência. Assentam as nossas significações mentais, culturais e afectivas. E isto é tão verdade que, se por acaso (ou por obra de um AVC), e ainda que temporariamente, essa ponte ruir, entramos naquilo que JCP baptizou de morte branca, aka processo de despersonalização, aka perda de identidade, aka incomunicabilidade. Tornamo-nos alheios e anónimos, passamos a habitar uma "ilha de náufragos".
De facto, que somos nós sem aquilo que fomos? É certo que nada somos se não sonharmos em ser algo mais. Mas não nos esqueçamos da memória, ou a vida torna-se uma meada demasiado longa para se lhe retomar o fio. Li De Profundis e lembrei-me disto. Ah, haja alguém que valorize a memória! E agora, José? José, obrigado.